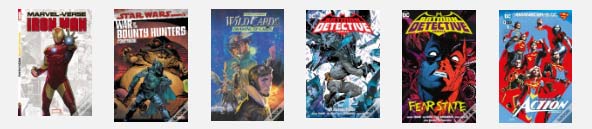“O Segredo de Brokeback Mountain”: a subversão do mito do cowboy viril e invulnerável
No mês passado, a Focus Features anunciou o relançamento comemorativo de “O Segredo de Brokeback Mountain”, de Ang Lee, por ocasião dos vinte anos da estreia do filme. A longa-metragem regressa aos cinemas norte-americanos este Verão, com sessões especiais. Ainda não há confirmação de exibição em Portugal ou no Brasil.
Estreado originalmente em 2005, o filme arrecadou três dos oito Óscares para os quais foi nomeado, incluindo o de Melhor Realizador para Ang Lee. Protagonizado por Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway e Michelle Williams, o drama retrata o amor contido e impossível entre dois caubóis que se conhecem numa montanha isolada, no Wyoming, em 1963.
A narrativa acompanha Jack Twist (Gyllenhaal) e Ennis Del Mar (Ledger) desde o primeiro encontro, durante o trabalho sazonal numa fazenda de ovelhas, até às marcas profundas que essa ligação deixa nas suas vidas ao longo das décadas. Entre encontros furtivos, silêncios forçados e escolhas dolorosas, o filme desenha um retrato sóbrio da repressão, do desejo e da perda, à sombra de um país e de uma época que não sabiam nomear nem tolerar o que viam.
A história de “O Segredo de Brokeback Mountain” tornou-se símbolo de uma viragem no cinema queer, tanto pela recepção crítica como pelo impacto cultural. Em 2024, a revista Out elegeu-o como o segundo melhor filme queer do século XXI. O legado da obra, contudo, também está marcado por uma das decisões mais debatidas da história dos Óscares: a derrota para “Crash”, frequentemente apontado como um dos vencedores mais controversos do prémio de Melhor Filme.
Vinte anos depois, o regresso de “O Segredo de Brokeback Mountain” aos ecrãs é menos uma celebração nostálgica do que uma oportunidade de reencontro com uma obra que resiste ao tempo. E que continua, no essencial, a perguntar: o que é possível amar quando tudo à volta nos diz que não?
A subversão do mito do caubói viril e invulnerável
Lançado em 2005, “O Segredo de Brokeback Mountain” tornou-se, quase imediatamente, um marco incontornável no cinema contemporâneo. Realizado por Ang Lee, o filme escapa à cartilha previsível dos dramas queer, recusando o discurso panfletário ou o exotismo do sofrimento.
Em vez disso, constrói-se como um estudo rigoroso da contenção, do silêncio e da erosão emocional. Na história de Ennis Del Mar e Jack Twist, dois vaqueiros contratados para guardar ovelhas numa montanha do Wyoming em 1963, a sexualidade emerge não como identidade declarada, mas como pulsão vivida na contramão do que é permitido dizer, mostrar ou até sentir.
Ao optar por uma linguagem visual marcada pela austeridade e pela distância, Lee confere ao filme uma gravidade quase fria e impessoal. As paisagens vastas, captadas com uma serenidade quase documental pelo mexicano Rodrigo Prieto, contrastam com a implosão íntima das personagens, acompanhada pela emocionante banda sonora do argentino Gustavo Santaolalla, cuja simples lembrança já emociona. A montanha não é apenas cenário, funciona como metáfora de um tempo suspenso, onde o amor parece possível, mas irrealizável fora daquela geografia isolada. Quando os protagonistas descem de Brokeback, regressam não só ao chão, mas também ao peso da norma, ao cerco das convenções sociais e à condenação implícita do desejo.
A recepção da obra foi desde o início marcada por ambivalência. Por um lado, recebeu louvores da crítica, aclamação nos festivais, três Óscares — entre eles o de Melhor Realizador — e consagrou os protagonistas Heath Ledger e Jake Gyllenhaal em interpretações de intensidade contida que dificilmente foram superadas.
Por outro lado, a perda do principal prémio da Academia para “Crash” marcou um episódio emblemático da resistência cultural ao reconhecimento de narrativas queer no centro do sistema. O filme de Paul Haggis, hoje frequentemente esquecido, venceu um candidato que, embora ancorado no classicismo narrativo, ousava colocar dois homens no centro de uma história de amor trágica e sem concessões.
Mais do que um romance interdito, “O Segredo de Brokeback Mountain” representou uma inflexão na forma como o cinema norte-americano tratava a masculinidade. Ao desmantelar o imaginário do caubói viril e invulnerável, o filme expôs a fragilidade emocional como parte integrante da experiência masculina. Ledger, em particular, compôs um Ennis lacónico e fechado, cujo sofrimento se acumula no corpo como um silêncio anédrico. A homossexualidade nunca é nomeada, mas esse não-dito adquire uma potência política que torna a obra ainda mais visceral.
O filme foi censurado em alguns países, criticado por sectores religiosos e teve a sexualidade das personagens dissecada até ao esvaziamento. Ainda assim, permaneceu. Em 2018, foi inscrito no Registo Nacional de Filmes da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, reconhecido como obra cultural, histórica e esteticamente significativa.
Como mencionei na abertura do texto, a revista Out classificou-o como o segundo melhor filme queer do século XXI. Talvez o seu impacto resida precisamente na forma como conjuga uma delicadeza formal com uma violência subterrânea: o amor vivido à margem, a vida que se curva à norma, o tempo que não regressa.

Brasileiro, Tenório é jornalista, assessor de imprensa, correspondente freelancer, professor, poeta e ativista político. Nomeado seis vezes ao prémio Ibest e ao prémio Gandhi de Comunicação, iniciou sua carreira no jornalismo ainda durante a graduação em Geografia na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), escrevendo colunas sobre cinema para sites, jornais, revistas e portais do Nordeste e Sudeste do Brasil.