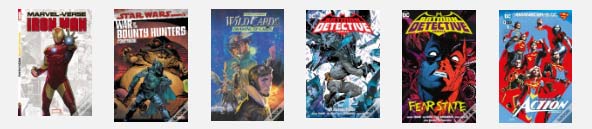Hamnet (2025) – Da morte às tábuas
Hamnet inscreve-se numa linha de cinema que privilegia o olhar íntimo sobre as relações humanas e a forma como o indivíduo se reconhece dentro de uma realidade maior do que si próprio. Tal como em O Filho de Mil Homens ou Train Dreams, existe aqui a consciência de que o sentido da vida é construído, sobretudo, no contacto com os outros e na possibilidade de partilhar significado mesmo diante do que excede a compreensão individual. O filme recusa tratar essa dimensão como um fardo incontornável e encara-a como um espaço onde a empatia pode ser, ao mesmo tempo, abrigo, resistência e crescimento.
Chloé Zhao junta-se a Maggie O’Farrell, autora do romance homónimo adaptado, para reproduzir a cadência contemplativa e a ambiguidade histórica que envolve Shakespeare. Ao dialogar também com o ensaio de Stephen Greenblatt sobre a morte de Hamnet e a génese de Hamlet, a realizadora afasta-se da tentação de reconstruir o mito do dramaturgo e procura, em vez disso, aproximá-lo da escala do quotidiano. A escolha de apresentar Paul Mescal como Will, e não como “William Shakespeare, o Bardo”, revela esse desvio deliberado para a esfera privada. Mescal compõe um protagonista marcado por uma obstinação característica de alguém que se agarra à criação artística como tentativa de compreender o que lhe escapa, sempre com a precisão e a elegância que já lhe reconhecemos.

Ainda assim, é Jessie Buckley quem assume o verdadeiro foco. A sua Agnes vive em ligação constante com a natureza e com uma espiritualidade assumida, e Buckley dá-lhe uma presença física e interior que altera a própria experiência de quem vê. Há momentos em que a narrativa parece abdicar de qualquer filtro e se aproxima da sensação de testemunho, como se a câmara apenas acompanhasse algo que já existe. A dinâmica familiar constrói-se em pequenos sinais, com destaque para a relação entre Hamnet e a sua irmã gémea, Judith. o símbolismo da brincadeira inicial em que trocam de roupa para confundirem os mais velhos, aparentemente inócuo, regressa mais tarde com outro peso e expõe a precisão com que Zhao trabalha a memória dentro do enredo. Noah Jupe (Hamnet), apesar da tenra idade e do tempo de ecrã reduzido, consegue transmitir uma vulnerabilidade que sustenta a carga emocional da história e legitima a ternura imediata que a personagem desperta.
Em simultâneo, há também a evocação de superstições e mitos, como o de Orfeu e Eurídice, que acrescenta mais uma camada reflexiva à trama sem a empurrar necessariamente para o abstrato. Com ela, exploram-se diferentes manifestações de amor, da entrega mais generosa à intimidade imperfeita, e encontra-se na arte uma das mais particulares.

Assim, Hamnet comove pela capacidade de olhar para uma figura monumental através de uma lente profundamente humana. Ao invés de procurar explicar Shakespeare ou fixar verdades definitivas, prefere sugerir que, por detrás das obras que atravessam séculos, a arte permanece como uma forma atemporal de esmiuçar e atribuir sentido à realidade.
Pontuação: 10/10

Fascinado por cinema desde cedo, começou pelas cassetes VHS de casa da avó e acabou a colecionar figuras de clássicos dos anos 80. Hoje, vê cada filme com a mesma curiosidade de então.