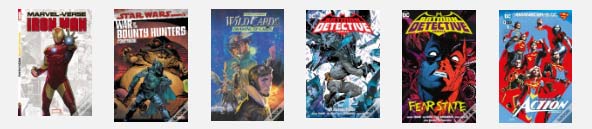Crítica – Mundo Jurássico: Renascimento
Sempre fui fascinado por dinossauros. Não apenas pelos dentes aguçados ou pelas garras aterrorizadoras (embora, claro, tivessem tudo isso), mas pela ideia de um mundo anterior ao nosso: vasto, misterioso, irremediavelmente perdido. Os dinossauros representavam o passado em escala mitológica, a lembrança de que nem mesmo a natureza é eterna, e de que tudo, em dado momento, pode desaparecer.
Quando “Parque Jurássico” chegou às salas de cinema, em 1993, Steven Spielberg não apenas pôs essas criaturas em movimento. Reavivou uma fantasia colectiva que, até então, dormitava em enciclopédias escolares e fósseis guardados a sete chaves nos acervos universitários. O cinema, ali, parecia perigosamente capaz de competir com Deus.
Mais do que um espectáculo, “Parque Jurássico” era uma ideia. Ou melhor, um aviso. Uma narrativa sobre a arrogância humana perante a vida, sobre os riscos de manipular aquilo que mal compreendemos. O espanto que sentíamos não vinha apenas dos efeitos especiais (revolucionários para a época), mas do confronto com uma pergunta incómoda: até onde podemos ir em nome da ciência? E a que custo?
Talvez por esse respeito quase devocional pelo original, mantive distância da sequela “Mundo Jurássico”. Desde o início, pareceu-me menos uma continuação e mais uma paródia corporativa, uma reciclagem polida para novos públicos, pensada não para evocar assombro, mas para vender brinquedos, puzzles de mil peças, camisolas, canecas térmicas, colaborações com marcas de suplementos alimentares como a Nestlé. Como tantos produtos da fase actual de Hollywood, carrega o cansaço de quem já não inventa, apenas repete.
Ainda assim, vencido pela curiosidade (ou por um impulso autodestrutivo que faz lembrar o dos cientistas a abrir jaulas trancadas com razão), resolvi dar-lhe uma oportunidade. Revi os filmes anteriores e fui ao cinema ver “Mundo Jurássico: Renascimento”, de Gareth Edwards. Afinal, criticar sem ver é desonesto. Agora que vi, posso criticar com gosto.
O filme é uma colecção de elementos que não se articulam. Uma overdose de efeitos visuais e uma carência absoluta de direcção criativa. Tudo se move depressa, mas nada progride de facto. Os dinossauros (que em tempos simbolizavam o espanto e o caos da natureza) agora funcionam apenas como presenças obrigatórias, mascotes digitais convocadas para preencher espaço num género que há muito perdeu fôlego.
Falta inventividade na sua movimentação, e menos ainda nos enquadramentos. Spielberg compreendia o tempo da revelação: o plano fechado no copo de água, o tremelicar da gelatina verde, a tensão na vedação electrificada, a cabeça que emerge lentamente da folhagem.
Aqui, tudo aparece aos gritos, aos saltos, sem tensão, sem pausa, sem consequência. Ou seja, nenhuma cena assusta. Nenhuma surpreende. O espanto foi substituído por ruído ou por àquele silêncio constrangedor de uma conversa que morre a meio, quando tudo o que resta é um sorriso amarelo e uma gargalhada forçada perante piadas tolas, apenas para sair da situação.
O argumento de David Koepp parece ter sido escrito segundo a lógica de um comité de marketing. São tantas subtramas a competir entre si que nenhuma se desenvolve. Temos uma família a tentar passar as últimas férias juntos antes de a filha entrar para a universidade (com o acréscimo de um namorado insuportável, saído directamente de uma comédia adolescente genérica tipo “Porquê Ele?” de John Hamburg), um grupo de mercenários em crise de identidade, um intelectual que se leva demasiado a sério e, claro, o vilão corporativo do costume. Aquele que, como manda o figurino, será castigado no acto final pela sua arrogância — comendo o próprio destino que construiu ou, neste caso, sendo comido por ele.
O elenco, embora estrelado, funciona mais como montra do que como força narrativa. Scarlett Johansson, no lugar de Bryce Dallas Howard, corre por florestas como se estivesse presa num looping de filmes anteriores. Rupert Friend, saído do universo meticulosamente estilizado de Wes Anderson, parece desconfortável ao tentar encaixar-se num registo mais “pop”. Mahershala Ali, actor de reconhecida profundidade em produções como “Moonlight” e “Green Book”, é reduzido ao papel de pai enlutado, preso a falas genéricas sobre perda e responsabilidade, numa interpretação que mais parece uma obrigação contratual do que uma escolha artística.
Jonathan Bailey tenta ser uma versão mais carismática da personagem interpretada por Alessandro Nivola no terceiro filme da trilogia original. Aqui, cabe um elogio a Manuel Garcia-Rulfo e David Iacono que, apesar do marasmo geral, funcionam com leveza como sogro e genro no cliché da construção de uma relação ao longo da jornada.
A direcção artística de James Clyne é funcional, mas esquecível. A banda sonora de Alexandre Desplat (um dos meus compositores preferidos) recicla motivos de John Williams sem qualquer subtileza, soando mais como citação automática do que como releitura criativa. A fotografia de John Mathieson, conhecido pelo seu trabalho em “Gladiador”, surge plastificada, próxima do padrão Marvel-Netflix, com brilho excessivo e saturação homogénea. Até o som dos dinossauros, outrora marcante, quase ritualístico, agora soa genérico — como se tivesse sido extraído de um banco de efeitos sonoros partilhado com Transformers.
O que mais incomoda, contudo, é a ausência total de risco. O cinema de Spielberg, mesmo nos seus excessos, sabia brincar com o perigo. “Mundo Jurássico: Renascimento”, por outro lado, joga pelo seguro. Às vezes, parece nem sequer ter sido realizado por Gareth Edwards, mas por Patrick Wilson, na sua estreia como cineasta em “Insidious: A Porta Vermelha”.
O seu único gesto de ousadia reside numa crítica débil, quase ornamental, esboçada por David Koepp à indústria farmacêutica. Essa denúncia, diluída em diálogos ocasionais entre Johansson e Bailey e desprovida de densidade, jamais se eleva a um comentário substantivo. A intenção, por mais meritória que se pretenda, revela-se inócua pela superficialidade com que é conduzida.
Menciona-se, de forma vaga, a manipulação genética e a transformação da vida em mercadoria, mas o argumento evita, com zelo quase cínico, qualquer aprofundamento que comprometa o conforto da narrativa ou a digestibilidade comercial do produto final. O resultado é um simulacro de crítica — um verniz ideológico, frágil e translúcido, aplicado com o único propósito de conferir respeitabilidade a um artefacto inteiramente moldado pela lógica do mercado.
Aquilo que se insinua como denúncia do capital — essa força voraz que lucra com a doença, converte pacientes em consumidores e modela o sofrimento humano como nicho de negócio — reduz-se a um gesto vazio, desprovido de convicção. E nem mesmo esse gesto é executado com consistência.
A própria existência do filme depõe contra qualquer veleidade reflexiva: trata-se de mais um episódio de uma franquia esgotada, ressuscitada não por necessidade artística, mas por cálculo financeiro. “Renascimento”, neste contexto, não passa de uma etiqueta enganosa, concebida para convocar nostalgias e engordar receitas. Em vez de renovação, o que se oferece ao público é uma repetição maquilhada, onde até a aparência de avigoramento serve apenas ao mais banal dos fins: a rentabilidade.
Sim, leu bem: rentabilidade. Tanto é que, a certa altura na sala, dei por mim a perguntar: por que razão existe este filme? A resposta tornou-se, a cada minuto, mais flagrante. Por inércia, por lucro, pela urgência de manter propriedades intelectuais a circular entre plataformas de streaming, parques temáticos e menus de fast food. O que aqui se apresenta não é, propriamente, um filme, mas antes um produto-matriz, concebido para alimentar uma cadeia de derivados, spin-offs e brindes coleccionáveis. A narrativa é secundária; o que importa é a engrenagem comercial que gira à sua volta.
E, caso alguém me julgue um socialista delirante, basta ir a um shopping. Eu próprio fui, no sábado passado, e lá estava o universo de produtos do filme: de copos a bolachas, de camisolas a sandálias — tudo ansioso por ser vendido, desde que ostentasse um dinossauro herdeiro dos de Spielberg.
Dito isto, não posso deixar de sentir uma certa tristeza ao constatar que “Mundo Jurássico: Renascimento” não é meramente um filme desnecessário; é um espectro melancólico do que já foi. É como revisitar uma carta amarelada e corroída por traças, cujas palavras perderam o seu calor, revelando um amor que se extinguiu no tempo.
Há narrativas que, por mais estimadas que sejam, já cumpriram o seu destino e não têm mais a oferecer. Como tão sabiamente alertou o Dr. Ian Malcolm, figura imortalizada por Jeff Goldblum na trilogia original, há monstros que devem permanecer enterrados no passado. Em tempos, essas criaturas encarnavam metáforas poderosas; hoje, mal passam de ruído no final de um vídeo promocional do Universal Park e de imagens bonitas para o Pinterest. São apenas sombras de uma era que, como a metáfora usada pelo personagem de Jonathan Bailey, se fossiliza na praia do imaginário popular.
Nota final: 4,5/10

Brasileiro, Tenório é jornalista, assessor de imprensa, correspondente freelancer, professor, poeta e ativista político. Nomeado seis vezes ao prémio Ibest e ao prémio Gandhi de Comunicação, iniciou sua carreira no jornalismo ainda durante a graduação em Geografia na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), escrevendo colunas sobre cinema para sites, jornais, revistas e portais do Nordeste e Sudeste do Brasil.